 A idéia de uma filial terrena do Éden bíblico, onde ninguém precisaria de ler leis escritas para ser feliz para sempre existia muito antes de 1500 (1502 era a data da carta de Américo Vespúcio ao banqueiro Lourenço de Medici em 1502, relatando a descoberta na baia de Guanabara, de um grupo de índios, os Tupinambás. Esta carta segundo teses citadas pelo autor serviria de inspiração à obra de Thomas More Utopia)O problema era que não se sabia onde ficava esse Éden e quais eram as horas de visita. Mas, com as grandes navegações, vieram os descobrimentos e os primeiros contatos com as populações dos trópicos. Finalmente se tinha um Éden para mostrar, melhor ainda que o do Gênesis - e, pelo que se depreendeu do relato de Vespúcio, ele ficava no Rio. Por quê?
A idéia de uma filial terrena do Éden bíblico, onde ninguém precisaria de ler leis escritas para ser feliz para sempre existia muito antes de 1500 (1502 era a data da carta de Américo Vespúcio ao banqueiro Lourenço de Medici em 1502, relatando a descoberta na baia de Guanabara, de um grupo de índios, os Tupinambás. Esta carta segundo teses citadas pelo autor serviria de inspiração à obra de Thomas More Utopia)O problema era que não se sabia onde ficava esse Éden e quais eram as horas de visita. Mas, com as grandes navegações, vieram os descobrimentos e os primeiros contatos com as populações dos trópicos. Finalmente se tinha um Éden para mostrar, melhor ainda que o do Gênesis - e, pelo que se depreendeu do relato de Vespúcio, ele ficava no Rio. Por quê?Porque, aqui, em meio da natureza mais exuberante que se pudesse imaginar, vivia um povo doce e inocente, sem noção de governo, moeda, bens materiais ou propriedade privada, desprovido de cobiça, inveja e egoísmo, e alheio a qualquer noção de "bem" e de "mal". Sem culpa também, porque, no perene verão da Guanabara, os homens, mulheres, crianças e velhos circulavam nus dia e noite, sem que isso levantasse sobrolhos entre eles. E, ao contrário do que se poderia pensar, não se tratava de feras com o corpo coberto de pêlos e um terceiro olho na testa, mas de uma gente simpática, de grande beleza física e com uma saúde de fazer inveja a qualquer europeu. O "homem natural", filho direto de Adão, existia de verdade, e que isto servisse de lição para o homem europeu, subitamente esmagado pelo surgimento das grandes potências, pela emergência do capitalismo e pelo individualismo que começava a grassar - eis o recado da Utopia de sir Thomas More. Tudo isso era confirmado pelos piratas franceses, normandos e bretões que começaram a aportar na Guanabara em 1504, apenas dois anos depois de Vespúcio, e que voltavam para contar a história. Diziam eles que, ao se aproximar do Rio, assim que as suas naus despontavam na barra, eram cercados pelas canoas dos tupinambás e recebidos com tratamento VIP. Os indígenas subiam a bordo, faziam-lhes festinhas, ofereciam-lhes frutas e presentes e ainda lhes entregavam as mulheres. (...)
Surpreendentemente, uma outra especialidade dos Tupinambás, observada pelos visitantes, não conseguiu diminuir sua cotação em sociedade: o canibalismo. Talvez porque o seu hábito de comer carne humana fosse movido apenas por vingança (nada a ver com escassez de alimento na praça) e obedecesse a rígidas regras de etiqueta. Primeiro só comiam os seus prisioneiros de guerra e, mesmo assim, só os fortes e corajosos - de preferência os temiminós, uma tribo com quem mantinham uma guerra quase esportiva havia quinhentos anos. Segundo, nada era feito às pressas: o prisioneiro tinha uma série de direitos e deveres antes de morrer.
 *Ruy Castro
*Ruy Castro
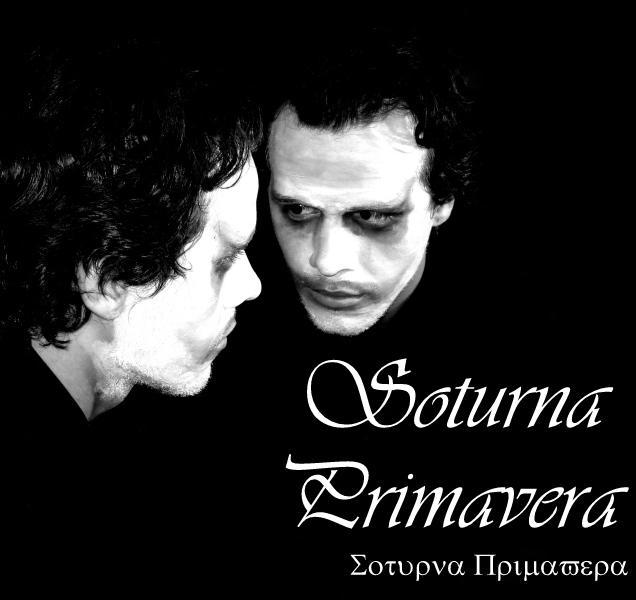

















.jpg)











